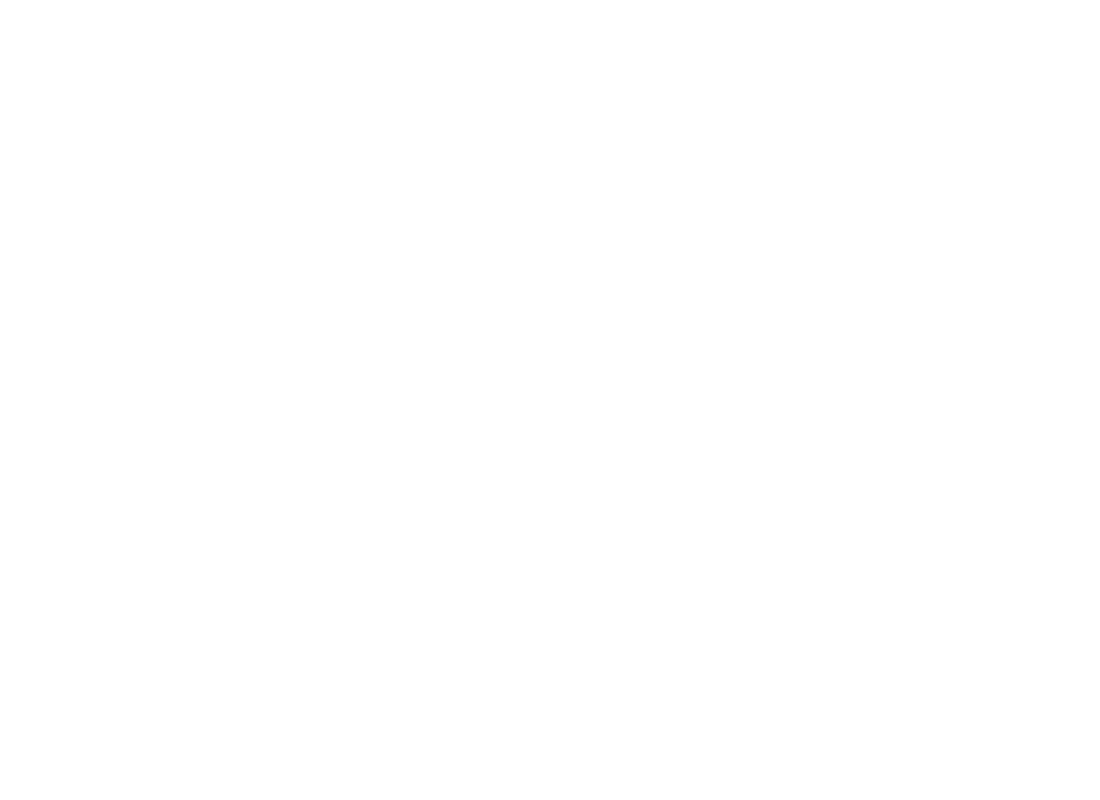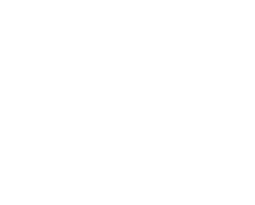Ditadores vs. Narradores (Choques Culturais 6)
Hoje, sempre que leio no jornal que um ditador acabou com a democracia de um país, ou que foi derrubado em nome da democracia, não consigo vibrar. Essas narrativas geralmente se referem a um país que ninguém conhece, cujo idioma ninguém domina, nem tem amigos para praticá-lo (ou “platicarlo”, se diria no México). Esse país distante às vezes nem é tão distante assim, sendo vizinho do meu. Esse país é distante porque nunca me aproximei dele, embora o jornal e os livros de história me façam acreditar no contrário.
O que narrei acima não vale, pois “sempre que leio no jornal” é uma afirmação tendenciosa, que dá a entender que leio jornal. Eu não leio mais jornal desde meu primeiro ano na Alemanha. O marco narrativo: na capa de um dos maiores jornais alemães, “Die Welt” constava a foto de Saddam Hussein enforcado com a manchete “Saddam morreu sem remorso”, frase que até reencontrar hoje a página da reportagem eu lembrava como “Justiça foi feita”. Não entendi a presença daquela foto na capa, nem entendi o que me parecia comemorar a morte por “enforcamento do ex-ditador do Iraque por crime contra a humanidade”. Entendi que Die Welt não era um jornal em que confiar. Mas eu também lia a Folha de São Paulo, Le Monde Diplomatique, The Guardian e El País. Nessa miscelânea, outra vez me consternou a notícia em alemão de que um viaduto tinha caído por um erro de cálculo do engenheiro. A consternação passou ao ler que o local do acontecimento não era na Alemanha, mas em São Paulo: alemães não cometem erros de cálculo. Apenas omissões.
Pode-se perceber que eu tinha a ambição de abarcar e entender tudo o que acontecia no mundo aprendendo suas “principais línguas” – inglês, francês, alemão, espanhol e italiano – e lendo seus “principais jornais”. Pode-se perceber que eu compartilhava da pretensão universalista eurocêntrica de saber e ditar o que é o mundo e sua humanidade, quem faz parte dele, quem pode falar sobre ele, em que espaços, quando e como. Fui me habilitando a ocupar esses espaços em diversos países e línguas, ao mesmo tempo em que buscava legitimar formas de conhecimento inferiorizadas dentro deles. A Universidade Livre de Berlim me outorgou o título de “Doutora da Filosofia” com uma tese sobre a transculturalidade do Candomblé, que me atravessou.
O Candomblé, em vez de me explicar o que é o mundo, o que é o outro, me treinou a vivenciá-los e senti-los como parte de mim, com minhas entranhas. Nos Candomblés que conheço, nenhum ser humano dita quem pode estar no terreiro, quem sabe mais do que os outros, nem qual é e quem é o dono da verdade. Lá, a Doutora da Filosofia nada mais é que uma abian: aquele que nada sabe. Uma abian marcada desde o primeiro semestre de faculdade pela frase de Sócrates “só sei que nada sei”. Se nada sei, nada posso ditar. Mas posso narrar.
A narrativa e a arte da retórica são caras às formas de conhecimento europeu desde a Grécia Antiga, assim narram. Retórica: não basta narrar, há que persuadir. Die Welt (em português, “O Mundo”) não narrou o enforcamento de Saddam Hussein e de tantas outras pessoas assassinadas naquele mesmo dia pelo mundo inteiro. O periódico “O Mundo” escolheu aquele acontecimento específico para persuadir cidadãos que leem jornais em alemão de que um mundo sem Saddam Hussein era melhor e mais justo. “O Mundo” e a narrativa que quem lê jornais em alemão quer para si. Para si, e não necessariamente para o resto do mundo.
Além dos jornais, não gosto de visitar igrejas. Quanto maior e mais suntuosa, pior. Lembro especialmente do mal-estar que passei ao visitar a catedral de Milão. Entendi a origem de meu mal-estar ao passar por estátuas expostas acima de minha cabeça, para serem admiradas de minha posição inferior, de diversos bispos – homens, brancos, outorgados de poder pelo próprio Deus em pessoa. Entre eles, havia um com o dedo erguido e expressão prepotente, onipotente, de quem carrega a palavra de Deus e dita onde ela está e deve ficar.
No Museu do Louvre, eu me perguntava de onde veio tanto rococó dourado decorando até a parte inferior de escadarias internas. No British Museum achei anacrônico que, em pleno 2015, os objetos da Europa antiga ficassem no primeiro piso superior, os dinossauros e a Pedra de Roseta no térreo, e os objetos da América, África e Oceania num subsolo bem menor sem janela nem arquitetura suntuosa. Nos metrôs de Paris e Berlim, que me dão a liberdade de me deslocar para qualquer lugar do Mundo, a cada vez que seguro na barra de apoio metálica, me lembro do Rio Subaé e de tantas famílias negras de Santo Amaro da Purificação (BA) contaminadas desde 1960 até hoje por chumbo e cádmio descartados pela Cobrac, “Companhia Brasileira de Chumbo”, que, apesar do nome, era subsidiária de uma multinacional de família francesa, compartilhada atualmente com a Alemanha sob o nome “Recyclex”.
Antes de ir para a Alemanha em 2006, eu tinha uma memória de elefante; decorava datas, números de telefone, endereços, placas de carro, alturas de monumentos, capitais do Mundo sem dificuldade alguma. Hoje, parece que não consigo memorizar mais dado nenhum, e acabo jogando dados com eles, de tão abstratos e aleatórios que me soam. Como consequência, sou, ou talvez tenha me tornado, péssima em história. Não consigo estabelecer uma linha cronológica de dados corretos e coerentes, e peço a compreensão de meus alunos se acabo narrando falácias. Não os persuado de minhas falácias; peço sua compreensão se não consigo narrar uma história linear oficial que deixaria, necessariamente, demasiadas lacunas. Espaços em branco. Espaços de branco: pois todos esses espaços de legitimidade que ocupei e línguas que aprendi são majoritária, quando não exclusivamente, dominados por brancos.
Me persuadiram dos melhores espaços e das melhores histórias a serem narradas. Me ditaram dados cuja coerência minha sensibilidade e experiência não são capazes de assimilar. Aprendi sobre a história feliz de “colonos” italianos e alemães – dos quais sei que descendo – que teriam civilizado o estado onde nasci, o Rio Grande do Sul. O mesmo estado que até hoje muitos acreditam não ter negros– dos quais não sei se descendo –, apesar de ter sido construído por negros ao mesmo tempo em que os dizimava. O mesmo Estado que até hoje dizima os negros tanto pela violência policial nas periferias do Brasil, como por ditar uma história na qual nada mais representam do que uma multidão indiferente de escravos e marginais. O mesmo Mundo que causou e segue cometendo genocídios daqueles a quem não é outorgado o poder de narrar a história – nem a própria, quanto menos a do Mundo –, pois primeiro devem dominar sua língua, linguagem, arte da retórica, para discernir as fontes de informações legítimas e fiáveis, aprender a costurar seus dados de maneira coerente com os parâmetros teóricos e metodológicos vigentes. Com alguma sorte, após outorgado o título de Doutor que legitima sua autonomia no Mundo da construção de narrativas, podem talvez gozar da chance de reivindicar sua existência dentro dele.
Que país distante é esse, no qual nunca vivi, do qual não provém nenhum amigo, mas apenas conheci através de narrativas nada aleatórias que me ditam ser governado por ditadores atrozes? Que país distante é esse em que vivi catorze anos, que cometeu o maior genocídio legitimado pela história do Mundo branco, o Holocausto, que cometeu outros não legitimados em África, e no qual apenas 70 anos depois crescem novamente narrativas xenófobas? Que outro país distante é esse onde nasci e vivo, que cometeu um dos maiores genocídios não legitimados pela história do Mundo, pois de negros, traficando legal e ilegalmente o maior número de escravos africanos das Américas, e que segue assassinando e oprimindo sistematicamente as populações negras e indígenas que o construiu e constrói há 520 anos; esse país cujas narrativas racistas e genocidas são legitimadas hoje por seu próprio “presidente”? Aquele que louva torturadores da ditadura militar?
De que adianta decorar uma data que não vivi, na qual não pude ver com meus próprios olhos não os documentos assinados naquele dia, mas com minhas entranhas todo o sangue derramado para que estes mesmos documentos fossem homologados e suas narrativas perpetuadas até hoje?
Que dia é hoje? – Me deu um branco: Só sei que nada sei.
*Esse texto foi inspirado pela dissertação de mestrado em andamento da artista, curadora e pesquisadora negra e brasileira Suelen Calonga, submetida na Universidade Bauhaus de Weimar em julho deste ano.